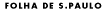|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
BENJAMIN STEINBRUCH
Um ponto percentual
Se for preciso ter uma inflação um pouco superior
à do centro da meta deste
ano, de 4,5%, que assim seja
QUANDO O dólar bateu em R$
2,40, na quarta-feira de semana passada, em meio às
turbulências que atingiram duramente os países emergentes, alguns
analistas do mercado financeiro começaram a olhar com preocupação
para a quarta-feira seguinte (amanhã). E logo levantaram a hipótese
de que o Banco Central, na reunião
do Conselho de Política Monetária,
poderia decidir pela interrupção de
sua já gradual política de corte dos
juros.
No raciocínio desses analistas,
que tentam interpretar a cabeça
conservadora do Banco Central, a
alta do dólar teria um efeito inflacionário importante mais à frente. Preventivamente, portanto, o BC poderia manter os juros nos atuais
15,75% ao ano, os mais altos do
mundo, ou mesmo voltaria a elevá-los, para combater essa possível inflação futura.
O raciocínio peca, em primeiro lugar, pelo excesso de pessimismo. Raras são as previsões de que as turbulências da semana passada possam
se prolongar -aliás, indicadores divulgados na quinta-feira e na sexta-feira, sobre a economia americana,
já foram suficientes para atenuar a
velocidade dos ventos que atingiram
o mercado financeiro.
Em segundo lugar, o raciocínio falha pela falta de memória. O impacto
do dólar nos preços, ainda que a taxa
viesse a permanecer em torno dos
R$ 2,40, jamais seria tão grande a
ponto de ameaçar a estabilidade
atual. Certos analistas se comportam como se o país ainda vivesse os
tempos da indexação plena, quando
qualquer alteração de custo imediatamente se transmitia para os preços pelo mecanismo perverso da
correção monetária. Nas condições
atuais, mesmo com o dólar a R$
2,40, o efeito inflacionário se daria
de forma gradual e limitada a alguns
setores. Esse efeito nem de longe seria suficientemente grande para
afastar a inflação da meta deste ano,
de 4,5%.
É didático lembrar que previsões
catastróficas sobre o efeito do câmbio na inflação foram desmentidas
por fatos, por exemplo, após o choque cambial detonado por razões
eleitorais, em 2002. Naquele ano, o
dólar passou de R$ 2,35, em 1º de
maio, para R$ 3,96, em 22 de outubro. Diante dessa alta, de quase 70%,
alguns profetas do apocalipse previram que a inflação chegaria a 80% ao
ano. A realidade mostrou que a taxa
foi pouco além de 12% em seu pior
momento.
Vamos admitir, porém, que as turbulências continuassem durante
um certo tempo e que o dólar permanecesse em R$ 2,40 ou até ultrapassasse esse nível [os exportadores
agradeceriam muito, mas essa é outra história]. Seria essa uma razão
determinante para o Banco Central
interromper a seqüência de corte
dos juros? Claro que não. Por conveniência ou conservadorismo, normalmente se esquece de que a meta
de inflação é um número que pode
variar de 2,5% a 6,5%. Os 4,5% a que
costumamos chamar de meta, na
verdade, são o centro da meta. A
margem de dois pontos para baixo
ou para cima existe exatamente para
que possam ser acomodadas situações inesperadas. E as turbulências
dos últimos dias, detonadas por suspeitas de que haverá novas altas dos
juros nos EUA, encaixam-se perfeitamente nessa modalidade.
A esta altura, atenuada a crise da
semana passada, ninguém mais trabalha com a hipótese de que o Banco
Central venha a manter a Selic nos
atuais 15,75% na reunião de amanhã. Mas também não se espera que
o corte seja de um ponto percentual,
como se imaginava anteriormente.
De qualquer forma, é bom que fique
claro: qualquer corte inferior a 0,75
ponto é inaceitável.
As seguidas reduções das taxas de
juros dos últimos meses, ainda que
muito aquém do desejável, têm dado
um certo estímulo ao setor produtivo e renovado a esperança de que o
país possa ter, em breve, um ritmo
de crescimento econômico semelhante ao de seus parceiros emergentes.
É o momento, portanto, de fugir
de tentações ortodoxas. Se for preciso ter uma inflação um pouco superior à do centro da meta, que assim
seja. Não faria nenhum sentido sacrificar a retomada do crescimento
por conta de um choque externo
inesperado. Aliás, seria irresponsável.
BENJAMIN STEINBRUCH, 52, empresário, é diretor-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, presidente do
conselho de administração da empresa e primeiro vice-presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo).
@ - bvictoria psi.com.br
Texto Anterior: Compras externas aumentam e causam redução no saldo da balança comercial
Próximo Texto: Volks anuncia recall de 123 mil veículos
Índice
|