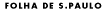|
Texto Anterior | Índice
O rock de todas as idades
O escritor inglês Nick Hornby pede a volta do som "que nos faça felizes por estarmos vivos"
NICK HORNBY
ESPECIAL PARA O "NEW YORK TIMES"
Faltam poucos dias para o Natal
do ano passado, e a banda de
rock'n'roll Marah, da Filadélfia,
está na metade de uma apresentação caracteristicamente feroz,
caótica e inspirada, quando a entrada do lado direito do palco é
aberta intempestivamente e um
jovem entra cambaleando, carregando a maior parte de uma bateria. Meus amigos e eu ocupamos
os melhores lugares da casa, a um
metro de distância dos vocalistas
do Marah, Serge e Dave Bielanko,
mas, com a chegada do baterista,
temos que afastar nossa mesa para abrir espaço para ele.
Não é o baterista do Marah (a
banda está temporariamente
sem), mas é um baterista, é dono
da maior parte de uma bateria, e
seu surgimento faz com que a
banda consiga criar um barulho
ainda mais glorioso e urgente do
que estava conseguindo até então.
O show termina em tom triunfal,
com Serge deitado no chão, entre
os pés do público, arrancando um
choro pungente de sua gaita.
A questão é apenas que, três ou
quatro meses antes, Bruce
Springsteen, que é fã da banda,
convidou os irmãos Bielanko a dividir o palco do Giants Stadium
com ele para fazer um bis e também que, dentro em breve, o Marah vai lançar "20.000 Streets under the Sky", que deve se tornar
um dos álbuns mais amados do
mundo. Esses caras não deveriam
estar passando o chapéu ao final
do show. Afinal, quantas pessoas
já tiveram que passar o chapéu no
mesmo ano em que tocaram no
Giants Stadium?
Há quase exatamente 30 anos
Jon Landau publicou seu influente, instigante e, subseqüentemente, muito criticado e parodiado
artigo sobre Bruce Springsteen
-o artigo que incluía o trecho
""eu vi o futuro do rock'n'roll, e
seu nome é Bruce Springsteen".
Ele começa em tom comovente:
"São 4h da manhã e está chovendo. Faço 27 anos hoje me sentindo
velho, ouvindo meus discos e
lembrando que as coisas eram diferentes dez anos atrás". É apenas
um palpite, mas imagino que vários dos que estão lendo este artigo consigam se lembrar de como
era sentir-se velho aos 27 e de como isso não guarda qualquer semelhança com sentir-se velho aos
37 ou aos 47. E vocês provavelmente sentem tanta saudade de
discos quanto de ter 27 anos.
É difícil não pensar na idade e
em sua relação com o rock. Acabo
de completar 47 anos, e a cada ano
que passa fica mais difícil não me
perguntar se eu não deveria estar
ouvindo algo que ainda é visto como mais apropriado para minha
fase da vida. Você já ouviu os argumentos 1 milhão de vezes: a
maior parte do rock é feita por jovens, para jovens e é sobre ser jovem, e, se você não é jovem e ainda o ouve, deveria se envergonhar. Finalmente consegui bolar
minha resposta a tudo isso: concordo com a maior parte da descrição, apesar de ela ser grosseira.
Entretanto, a conclusão já não faz
mais sentido para mim.
A juventude é uma qualidade
que não difere muito da saúde: é
encontrada em abundância
maior entre os jovens, e todos nós
precisamos ter acesso a ela. Mas
falo da energia, dos anseios cheios
de desejo, da sensação de felicidade inexplicável, do senso esporádico de ser invencível, da esperança que arde como cloro.
Quando eu era mais jovem, o
rock expressava esses sentimentos; agora que sou mais velho, os
estimula. Mas, de um modo ou de
outro, o rock era e continua a ser
necessário porque, afinal, quem
não precisa de uma sensação
inexplicável de felicidade e um
sentimento de invencibilidade,
mesmo às vezes?
Adulta demais
Embora seja verdade que sou
um velho nostálgico e que estou,
sim, reclamando do estado em
que se encontra a música contemporânea. Ela se tornou, de certo
modo, adulta demais, se levando
a sério demais. É claro que queremos ouvir canções sobre o Iraque,
sobre a prostituição infantil, sobre
a dependência de heroína. E, se as
bandas acham necessário usar furadeiras elétricas em lugar de guitarras para dar vazão à sua ira,
que o façam. Mas será que há alguma chance de ouvirmos como
bis "Little Latin Lupe Lu", dos
Righteous Brothers -ou, melhor
ainda, algum equivalente contemporâneo?
Talvez o rock tenha chegado a
uma bifurcação. Ou você pode
correr atrás da vertente Britney,
ou então optar pelo caminho mais
nobre do cult-rock, que conduz a
grandes críticas e ao esquecimento comercial. Compro esse tipo de
material artístico o tempo todo, e
boa parte dele é ótimo. Mas parte
do que ele tem a dizer é que seus
criadores não querem se misturar
ao mainstream ou deixaram de
pensar que é possível fazê-lo; conseqüentemente, o status de cult
passou a ser previamente ordenado, em lugar de acidental.
Agora, quem quer fazer uma arte que seja engajada, autêntica e
inteligente, mas que se proponha
a incluir, mais do que a excluir?
Fazê-lo faria você correr o risco de
parecer não apenas sincero e não
cool -ou seja, o oposto ao que é
visto como pós-moderno-, como, também, arrogante e extremamente ambicioso.
Na verdade, não me importa se
a música soa nova ou velha -só
quero que ela tenha anseios e exuberância, que seja desinibida, que
reconheça o poder redentor do
barulho, que admita que a inteligência emocional às vezes se expressa melhor por uma grande
troca de acordes do que por um
cenho franzido.
Há pouco tempo o crítico de
música pop do "Guardian" escreveu uma resenha sobre uma banda britânica que o lembrou da
"guitarra e da bateria de máquina
martelante do trio dos anos 1980
Big Black e do som sombrio da
primeira fase do Throbbing Gristle". Não tenho dúvida alguma de
que a banda sobre a qual ele escrevia ainda vai se mostrar uma das
forças culturais mais significativas da década, nem, tampouco,
que ela vai criar música que nos
obrigará a encarar de frente o mal
e o horror que existem dentro de
todos nós.
Entretanto, há uma parte de
mim que insiste em pensar que o
rock -e, de fato, a arte como um
todo- tem um papel ocasional a
exercer na arte cada vez mais difícil de nos fazer felizes por estarmos vivos. Não sei se o Throbbing
Gristle e seus descendentes algum
dia conseguirão essa façanha, mas
os integrantes do Marah a conseguem. Espero que eles não estejam novamente passando o chapéu ao final deste ano, mas, se estiverem, por favor não economizem nas moedas para colocar em
seu chapéu.
Nick Hornby é autor de, entre outros livros, "Alta Fidelidade" e "Songbook"
Tradução Clara Allain
Texto Anterior: Música: Ira! monta inventário de clima dos anos 80
Índice
|