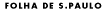|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
+ cultura
Ao anunciar pelo rádio a invasão de Nova York por ETs em 1938, diretor de
"Cidadão Kane" criou uma nova realidade social e antecipou a arte da simulação
O dia das bruxas de Orson Welles
Iray Carone
Lia Baraúna
especial para a Folha
Em 30 de outubro de 1938, exatamente às 20h50,
uma nave espacial carregada de marcianos e artefatos de guerra desembarcou, com estrondo formidável, numa fazenda do senhor Wilmuth nos
arredores de Grovers Mill, em Nova Jersey (EUA). Logo
que o fenômeno aconteceu, polícia, repórteres, população local, comentaristas da rede CBS e o prestigiado astrônomo Richard Pierson correram atônitos para o local. Havia muita confusão a respeito da coisa: meteoro,
meteorito ou, na pior das hipóteses, um objeto não-identificado que arrombara a porta dos céus?
Não demorou muito para que a coisa mostrasse o que
era e de onde vinha.
O professor Pierson, dez dias antes, registrara estranhas explosões de luz alaranjada na superfície de Marte.
Na noite de 30, no entanto, estava um pouco cético a
respeito da importância de suas observações, dizendo a
Carl Philips, comentarista de rádio, que o fenômeno observado era meramente resultado das condições atmosféricas peculiares ao planeta e que julgava pouco provável a existência de vida inteligente em Marte, a despeito
da crença popular sobre isso.
Recado urgente
O dr. Lloyd Gray, chefe da divisão
astronômica do Museu de História Natural de Nova
York, mandou então um recado urgente para Pierson:
os sismógrafos tinham registrado um choque de intensidade semelhante ao de um terremoto, a um raio de 20
milhas (32 km) de Princeton. Novamente o ceticismo
científico do astrônomo, treinado para evitar explicações precipitadas e fantásticas, funcionou: era provavelmente um meteorito de tamanho incomum que tinha
caído na Terra e que não teria, a seu ver, uma ligação direta com as perturbações observadas no planeta Marte.
Mas, a história nos adverte, não adianta subestimar as
forças das coisas... As notícias começaram a chover: o
professor Morse, da Universidade Macmillan (Canadá), informou pela Rádio Intercontinental de Toronto
que tinha registrado três explosões no planeta Marte,
entre as 19h45 e 21h20 (horário local), confirmadas por
outros observatórios norte-americanos; logo em seguida, da cidade de Trenton, Nova Jersey, veio a notícia de
que um imenso e flamejante objeto, talvez um meteorito, havia caído a 22 milhas de distância dali, nos arredores de Grovers Mill.
Cerca de 32 milhões de pessoas, segundo o "Crossley
Service", estavam ouvindo programas musicais no rádio quando as notícias começaram, num crescendo, a
interromper o entretenimento domingueiro. Seria uma
espécie de "cerco a Nova York" o verdadeiro objetivo
da invasão pelos lados de Jersey e Long Island?
Os fatos comprovaram a intenção estratégica da ação
invasora: as máquinas de guerra atravessaram o rio
Hudson, atingiram o coração de Manhattan, matando a
população sem dó nem piedade, com gases venenosos e
raios incandescentes. Em poucos minutos, tudo o que
levou alguns séculos para ser construído virou pó, fumaça negra e deserto de homens.
A voz de Orson Welles, então, veio despertar os ouvintes do sonho tenebroso: "Eu sou Orson Welles, senhoras e senhores, fora do personagem [professor Pierson", para assegurá-los de que "A Guerra dos Mundos"
não teve maior significado do que o entretenimento de
feriado que pretendeu ser. A nossa versão radiofônica
de "The Mercury Theatre" [...] aniquilou o mundo diante dos seus ouvidos e destruiu totalmente a Columbia
Broadcasting System. Vocês ficarão aliviados, espero,
ao entender que não pretendíamos fazer isso e que ambas as instituições estão ainda abertas". Era a véspera do
Halloween: Buh!
Orson Welles (1915-85), diretor e ator do "Mercury
Theatre on the Air", estava baseado num excelente roteiro e adaptação moderna da novela "A Guerra dos
Mundos", de H.G. Wells, por Howard Koch. Era a 17ª
peça levada ao ar, e o Mercury não tinha muita audiência por causa da grande popularidade, no horário de
domingo, do programa do ventríloquo Edgar Bergen e
seu boneco, Charlie McCarthy. Embora a adaptação radiofônica tivesse usado o recurso de elevar a dramaticidade apresentando a peça como boletins de notícia e
flashes da invasão, interrompendo programas de orquestras musicais, houve pelo menos dois "breaks" intermediários esclarecendo o seu caráter de ficção.
Mas nem sempre os ouvintes retardatários ou aqueles
já tomados pelo medo perceberam isso. As palavras
criaram, de repente, uma nova realidade social: em menos de uma hora, o pânico tomou conta de cerca de 1
milhão de pessoas.
Após o programa, as rádios tentaram esclarecer a situação e diminuir os efeitos devastadores da transmissão; nos dias seguintes, os jornais tiveram como matéria
principal os relatos das pessoas atingidas pelo pânico.
Uma semana depois, a equipe de Paul Lazarsfeld, que
vinha fazendo um estudo dos efeitos psicossociais da
difusão radiofônica, colheu depoimentos de 135 pessoas da região de Newark e de Nova York, além dos recortes de jornais do país inteiro.
Certamente a histeria coletiva foi a nota dominante,
mas houve algumas razões objetivas para o fenômeno
(que se repetiu, por exemplo, em Quito [Equador" no
ano de 1949, quando a rádio local reproduziu a mesma
peça, com a consequência adicional de a população ter
queimado o edifício do jornal proprietário da estação,
com 20 mortes e vários feridos, após o término do programa). Em primeiro lugar, como disse o sociólogo David Miller, o ouvinte foi induzido a confundir ficção e
realidade por causa do formato aberto e não-convencional da primeira parte da peça, sem música de fundo,
narração e diálogos. Nem mesmo anúncios comerciais
apareceram nos "breaks" da peça.
Boletins súbitos
Em segundo lugar, o formato da
peça se apropriou de algo então habitual no rádio: a intervenção súbita de boletins de notícias por causa do
agravamento da crise na Europa. Dessa maneira, a forma dramática evocava intencionalmente os sentimentos de medo e preocupação dos norte-americanos com
a deflagração de uma nova guerra, de um ataque aéreo
de alemães (ou japoneses) em seu território, de um conflito entre o presidente Roosevelt e Hitler, do envolvimento da questão judaica etc.
O episódio prenuncia uma característica que acabou
se tornando dominante na cultura ocidental: a simulação, que há muito ultrapassou as fronteiras da arte e do
entretenimento e se instalou em toda parte. Na propaganda, nos noticiários e na política, o simulacro é muitas vezes apenas um eufemismo para a fraude. Por outro, a simulação está tão banalizada que, às vezes, se
torna tênue o fio que separa o real do seu simulacro.
Quando as imagens da TV mostraram as cenas do
atentado terrorista de 11 de setembro em NY (de novo?!), muitos pensaram que era um filme de ficção norte-americano, tal como "Independence Day". Ou talvez
outra "peça" do fantasma esplêndido de Orson Welles.
Iray Carone é professora do Instituto de Psicologia da USP e pesquisadora da Universidade Paulista. É organizadora e co-autora de "Psicologia Social do Racismo" (ed. Vozes).
Lia Baraúna é doutoranda no Instituto de Psicologia da USP.
Texto Anterior: ET + Cetera
Próximo Texto: Capa 10.11
Índice
|