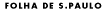|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
ARTIGO
É hora de reeducar o mundo islâmico
NELSON ASCHER
COLUNISTA DA FOLHA, EM PARIS
O ano de 2002 foi um ano de terrorismo intensivo e violência
mundo afora: cerca de 200 turistas mortos na explosão de uma
discoteca em Bali e outras tantas
vítimas, majoritariamente cristãs,
linchadas na Nigéria; ataques no
Paquistão a um consulado americano, a engenheiros navais franceses, a organizações e templos
cristãos; alvos cristãos atacados
nas Filipinas e uma sinagoga
bombardeada na Tunísia, vitimando turistas alemães; a destruição de um hotel e o lançamento de mísseis terra-ar portáteis
contra um jato comercial israelense no Quênia; vários atentados
contra a Índia; a tomada de reféns
num teatro em Moscou por rebeldes tchetchenos; o ataque a um
petroleiro francês perto da costa
do Iêmen. O maior número de
atentados, porém, ocorreu contra
a população civil de Israel e, embora 90% deles tenham sido evitados, os bem-sucedidos resultaram em centenas de mortos e milhares de feridos e mutilados.
Há várias coisas em comum entre essas ações: elas foram todas
perpetradas por muçulmanos e
quase sempre movidas pelo fanatismo religioso; além disso, a
maioria se dirigiu contra "alvos
moles", ou seja, civis indefesos, e
nenhum ataque de envergadura
ocorreu nos EUA ou na Europa
Ocidental. Tal ausência resultou
não da falta de tentativas, mas de
boa prevenção. Seja como for, é
difícil escapar à constatação de
que, desde 11 de setembro de 2001,
vigora um estado de guerra no
planeta. A principal objeção daqueles que relutam em lançar
mão de expressões bélicas consiste em procurar equacionar o fenômeno em termos de criminalidade: tratar-se-ia antes de um caso de polícia que de exércitos.
O equívoco desse raciocínio reside em julgar que só o conflito
entre nações pode ser qualificado
de guerra, mas é um fato que conflagrações desse tipo são relativamente recentes, enquanto, através
da história, o grosso das guerras
foi travado por tribos, etnias, seitas, castas, grupos sociais etc.
De certa forma, após a exceção
de alguns séculos, voltou-se à regra geral.
Mas que guerra é essa? Será o
"choque de civilizações" de que o
professor Samuel Huntington, de
Harvard, falou em seu célebre ensaio publicado em 1993 na revista
"Foreign Affairs" e desenvolvido
posteriormente em livro? Sim e
não. Embora haja fatores econômicos envolvidos no drama contemporâneo, não são eles nem as
disputas territoriais e outras querelas tradicionais as suas causas
profundas. Pelo contrário, são as
diferenças culturais, de civilização
e visão de mundo que estão na
raiz até mesmo dos problemas
econômicos envolvidos. A idéia
geral de Huntington e sobretudo
sua polêmica frase-chave, segundo a qual "o islã tem fronteiras
sangrentas", provaram-se nada
menos que proféticas.
O que deixa a desejar, entretanto, é o modo como ele define os
atores do entrechoque, a saber, de
acordo com a religião que prepondera ou preponderou em tal
ou qual lugar, algo que, para o autor, determina o caráter de uma
civilização. Acontece que, se a religião professada pelos agressores
é importante, assim como o é, para estes, a de suas vítimas, estas,
por seu turno, não têm reagido
como membros de civilizações religiosamente circunscritas. A motivação confessional existe de um
lado apenas, e o que se vê entre os
agredidos é uma imensa dificuldade de acreditar que seja essa a
motivação dos atacantes. Daí a
busca inútil de causas de todo tipo, exceto as religiosas.
Quantos americanos ou europeus, afinal, reconhecem-se na
expressão "cruzadistas" que os
militantes islâmicos lhes reservam? E, salvo no caso dos hindus
do Estado indiano de Gujarat, que
retaliaram contra uma atrocidade
muçulmana anterior, e pouquíssimos eventos inócuos e marginais, não houve atentados ou ataques antiislâmicos em parte alguma, nem nos Estados Unidos nem
no resto do Ocidente, nem mesmo em Israel: nada de muçulmanos trucidados ou bombas nas
mesquitas. Os únicos atos de terror antimuçulmano foram perpetrados por seus próprios correligionários, em países islâmicos como a Argélia. Talvez seja, portanto, mais adequado entender a situação como o confronto entre
duas visões de mundo: de um lado, uma pré-moderna, religiosamente enraizada; de outro, uma
que é pós-iluminista e, no que diz
respeito à política, pós-religiosa.
Se bem que nenhum dos ataques acima tenha se aproximado
da gravidade do megaatentado
inaugural, é este que lhes dá sentido, garantindo que sejam tomados, não como ocorrências isoladas, mas sim como ações de uma
mesma conflagração cuja origem
se encontra na crise generalizada
do mundo islâmico e, de modo
muito mais agudo, no seu núcleo,
os países árabes. É nessas nações
mal-formadas, pessimamente administradas, em franca regressão
socioeconômica e nas quais o insucesso de um nacionalismo
equivocado abriu as comportas
do fundamentalismo religioso,
que elites autoritárias e corruptas
associaram-se primeiro a uma intelectualidade oportunista e, agora, a um clero sequioso de poder e
sangue para, inventando uma sequência paranóica de inimigos
externos, dirigir contra estes a ira
de suas populações frustradas.
Como o islã não passou por nada semelhante à reforma do cristianismo ou à secularização do
Ocidente e como o século 20 poupou os árabes da devastação da
guerra total, seus porta-vozes recorrem a uma retórica bélica que,
entre povos mais experientes,
causa antes pasmo que horror.
Que o governo dos EUA, respaldado pela opinião pública local,
veja o 11 de setembro e a Al Qaeda
como manifestações da crise atual
das nações muçulmanas e da disfuncionalidade das sociedades
árabes praticamente assegura
que, com ou sem guerra, o Iraque
será ocupado pelos americanos.
Segundo a análise destes, não
são somente as atrocidades de Bin
Laden que se parecem com Pearl
Harbor, mas é o mundo árabe
mesmo que se assemelha ao Japão
militarista. Em ambos os casos,
grupos extremistas, xenófobos e
agressivamente expansionistas
conseguiram impor sua agenda
ao resto da população, cativando
inclusive sua simpatia e entusiasmo, para ao fim e ao cabo conduzir todos ao desastre completo. O
Japão teve de ser derrotado, ocupado e, por assim dizer, reeducado antes de retornar à comunidade das nações. Ao que tudo indica, não é nada menos o que se prepara para o Iraque.
O país de Saddam Hussein é um
microcosmo dos problemas da
região. Os ingleses criaram o Iraque depois da Primeira Guerra
reunindo três Províncias do então
recém-dissolvido império otomano. A maior parte de sua população compunha-se de árabes xiitas
do sul e de curdos do norte. A
Província central era habitada por
árabes sunitas, judeus, cristãos
(assírios, caldeus e armênios) etc.
O poder foi dado à minoria árabe
sunita e, o trono dessa nova monarquia, à família Hashemita (a
mesma do monarca jordaniano),
que na época perdera o controle
hereditário das cidades santas de
Meca e Medina para a casa de
Saud, que fundou a Arábia Saudita. Depois de duas limpezas étnicas, a dos cristãos (1933) e a dos
judeus (virada dos anos 1940/50,
precedida por um grande pogrom, chamado "Farhud ", em
1941) e a repressão constante de
curdos e xiitas, os Hashemitas foram depostos e massacrados em
1958. O que veio em seguida foram golpes militares, a dilapidação da riqueza petrolífera em armamentos, guerras desastrosas
(contra o Irã, a invasão do Kuait),
o massacre de dezenas de milhares de curdos nos anos 80 e de xiitas na década seguinte. Saddam
pertence à minoria árabe sunita
que, representando menos de um
quinto dos iraquianos, continua
monopolizando o poder.
Há quem não entenda por que
os EUA julgam necessário atacar
o Iraque se não foi ainda comprovado nenhum vínculo entre Saddam Hussein e quem os agrediu,
isto é, a Al Qaeda, uma organização comandada e em boa parte financiada por sauditas, que também suprem muitos de seus quadros e de seus prisioneiros em
Guantánamo. Há, é claro, boas razões para depor um regime que,
acumulando um arsenal de armas
não convencionais, busca há muito o controle do petróleo e a hegemonia político-militar no Oriente
Médio. A megalomania de um ditador instável constitui por si só
um perigo que, numa região difícil e delicada, não é mais tolerável.
Eliminar suas armas de destruição em massa, de cuja existência
ninguém sério duvida, é um objetivo de curto prazo e, ao mesmo
tempo, uma boa desculpa para
implementar um projeto mais
ambicioso, que implica em impor
reformas profundas a todos os
países vizinhos.
Como se se tratasse de um tabuleiro de xadrez, a conquista do
Iraque completaria a ocupação
das casas de uma mesma cor, possibilitando o exercício de pressões
mais intensas sobre os sauditas e
o Iêmen, além de servir tanto para, em conjunto com Israel e a
Turquia, proteger a Jordânia e
isolar a Síria e seu protetorado libanês quanto para ameaçar um
flanco do Irã, enquanto o outro se
encontra devidamente coberto
pelo Afeganistão ocupado, que,
por sua vez, com a Índia do outro
lado, ajuda a manter bem-comportada a única nação islâmica sabidamente nuclearizada, o Paquistão. Nem se devem, de resto,
ignorar dois possíveis brindes que
viriam com a invasão: as reservas
iraquianas, que relativizariam a
importância do petróleo saudita,
e, eliminando-se Saddam, que financia e inspira a Intifada e o maximalismo irredentista palestino,
a consequente remoção de um
dos grandes obstáculos à pacificação do conflito israelo-árabe.
O quadro do que 2003 parece
prometer não deixa, assim, de ser
paradoxal. Se uma das metas declaradas dos planejadores da destruição do World Trade Center
era a de expulsar os americanos
das terras islâmicas, o que conseguiram até o momento foi a
maior concentração de seu poderio militar no coração mesmo do
mundo árabe. Descontadas as
pessoas assassinadas e o prejuízo
econômico desde então já digerido, a primeira grande vítima da
ação mais ambiciosa do terror islâmico acabou sendo justamente
seu regime favorito, o do Taleban
no Afeganistão. A segunda vítima
séria foi a Intifada palestina.
A intenção provável de Iasser
Arafat quando a desencadeou era
a de, provocando uma reação excessiva de Israel, tornar inevitável
a intervenção estrangeira no conflito, algo que lhe traria vantagens
sem obrigá-lo a fazer concessões.
Esse estratagema só daria certo
se, mantendo-se neutros, os EUA
deixassem os europeus pressionarem os israelenses. Graças à Al
Qaeda, a neutralidade americana
ficou fora de questão. A próxima
vítima é, quase certamente, Saddam Hussein, o ditador que chegou mais perto de obter a "bomba
atômica árabe". O que virá a seguir está em aberto, mas, seja a eliminação da casa de Saud e o fim
da promoção internacional de sua
vertente wahabbista do islã ou a
deposição dos aiatolás iranianos
que comandam o mais antigo regime fundamentalista, seja a ocupação da Somália, um dos grandes refúgios de grupos islâmicos,
ou da Líbia, propiciando o cerco
do mais importante país árabe, o
Egito, uma coisa é líquida e segura: as coisas não correrão de acordo com os planos originais de
Osama bin Laden.
Texto Anterior: Terrorismo: Mortos em atentados na Tchetchênia são 55
Próximo Texto: Oriente Médio: Fórum Social Mundial promove debates em Ramallah
Índice
|