
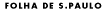

São Paulo, domingo, 21 de julho de 2002
 |
 |
|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
PARALISIA LIBERAL
Os livros recentes de geopolítica nos dão uma imagem do planeta bem diferente daquela transmitida pelos manuais utilizados nas escolas e nos governos. Na verdade, o mapa-múndi apresentado por esses livros quase se reduz ao retrato de dois adversários: os EUA e os movimentos que levantam o mundo islâmico e principalmente a parte central do islã, o mundo árabe. É verdade que a imensa China se transforma em velocidade acelerada, mas o custo humano dessa transformação é tão elevado e o atraso, tão grande, que a China só poderá exercer o papel de grande potência num tempo relativamente distante. Nem sequer é possível fazer um diagnóstico tão prudente para a Índia, e não ousamos mais falar do Japão, por tanto tempo invejado e admirado, depois que o estouro da bolha financeira, na última década, freou uma economia que no entanto mantém grande dinamismo. Ninguém espera que esses livros de geopolítica vejam outra coisa na África além de um oceano de miséria, onde às vezes surgem regimes mais sólidos e cujos jovens diplomados fogem para regiões mais favorecidas. Em termos muito menos dramáticos, também é assim que falamos da América Latina. Depois de alguns anos de euforia, o México passa por um período difícil, especialmente porque não conseguiu construir um sistema político, apesar do desaparecimento do partido único. A Argentina, país de alto nível econômico e cultural, sofre uma crise dramática. O Brasil escapou dos efeitos da crise de 1999, que poderiam ter sido devastadores, mas nem seu sistema econômico nem seu sistema político progrediram de forma significativa. E, paradoxalmente, é nos setores em que há críticas mais fortes ao atual presidente que se alcançaram os progressos mais notáveis: educação, saúde e outros aspectos das políticas sociais. O presidente FHC terminará seu segundo mandato, se não com um apoio popular suficiente, pelo menos com o reconhecimento da comunidade internacional e a satisfação de ter conseguido evitar as crises mais graves. Somente o Chile mantém seu progresso, mas sem entusiasmo, e de qualquer modo não tem a força necessária para modificar a política de todo um continente. Portanto podemos dizer que no momento atual o peso da América Latina nas decisões mundiais é muito pequeno, e esse é um dos motivos da cólera dos argentinos, convencidos de que a recuperação de seu país não é uma prioridade para os organismos internacionais. Parece difícil fazer um julgamento da Europa análogo ao que acabamos de formular sobre a América Latina. Podemos até considerar como evento geopolítico importante a aproximação ocorrida entre os EUA e a Rússia, que deixa livres as mãos de Putin na Tchetchênia e as dos americanos no Oriente Médio; mas é evidente que, nesse acordo, o "senior partner" são os EUA, pois a distância entre os dois países nos campos econômico e militar não parou de crescer. E a Europa Ocidental? A resposta mais espontânea sobre seu futuro é que ela está muito ocupada em integrar à União Européia as partes da Europa Central e Oriental que ficaram muito tempo sob o domínio comunista e que se aproximam lentamente dos modos e do nível de vida dos países irmãos da Europa Ocidental. Esta ficará amplamente ocupada e até paralisada pela enorme tarefa com a qual se comprometeu. É possível que a comissão que trabalha atualmente sobre as futuras instituições faça propostas capazes de impedir que a ampliação da Europa provoque seu enfraquecimento; mas no momento atual não vemos bem que iniciativas a União Européia estaria se preparando para tomar. Mesmo onde sua intervenção econômica é direta e maciça, como no Oriente Médio, onde ela garante uma grande parte dos gastos dos palestinos, não vemos a Europa nem sequer capaz de lançar um grande programa de desenvolvimento na margem sul do Mediterrâneo; tampouco desenvolver suas trocas com a América Latina, para não deixar os Estados Unidos com o poder absoluto em seu "backyard" (quintal) e, principalmente, não vemos o papel que a Europa pode ter num mundo dominado de maneira dramática pelo confronto entre os Estados Unidos e uma parte do mundo árabe. Embora pudéssemos nos satisfazer com uma visão econômica do mundo, ao mesmo tempo em que muitos deploravam os efeitos negativos da globalização, por um ou outro motivo, bem sabíamos que ainda podíamos intervir. Não vimos recentemente manifestantes exigir na Itália a intervenção da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) contra a OMC (Organização Mundial do Comércio), e não existem Estados nacionais que pedem a ajuda do FMI para superar suas dificuldades? Mas essa visão demasiado econômica do mundo não corresponde mais à realidade; ela ficará ligada à época Clinton. Desde o início de seu governo, George W. Bush, sob a pressão do trágico atentado de 11 de setembro, decidiu envolver seu país num confronto militar, mais que num programa de concorrência ou mesmo de hegemonia econômica. Hoje é em termos de bombas e batalhões, e não de computadores ou toneladas de aço, que comparamos os países entre si. E aqui a impotência da Europa não deixa a menor dúvida. A Europa simplesmente não tem meios para guerrear. Certamente existe na Europa um movimento de opinião que em 20 anos levou os principais países a apoiar mais os árabes-palestinos do que os israelenses, que hoje só podem contar com um aliado certo e poderoso: os EUA. Mas os europeus não têm capacidade de propor um plano de ação. Eles não têm os aviões, os meios de abastecimento e de espionagem necessários para intervir de maneira decisiva em uma parte do mundo. No plano interno, os países europeus estão numa situação igualmente debilitada. Durante 50 anos, depois da criação do plano Beveridge na Grã-Bretanha [o economista William Beveridge (1879-1963) publicou em 1942 o "Report on Social Insurance and Allied Services", base da legislação social implantada pelos trabalhistas britânicos no pós-guerra" e da Seguridade Social na França, a Europa Ocidental, ampliando-se e reforçando-se pouco a pouco, criou um Estado de Bem-Estar Social que, apesar de seus defeitos, representou um poderoso elevador de mobilidade social e uma proteção, se não sempre suficiente, pelo menos forte o bastante para modificar a organização social. Mas eis que esse "welfare state" se enfraquece por todos os lados: ao mesmo tempo porque sobrecarrega a economia e porque o faz não a favor dos mais fracos, mas para reforçar os interesses e os privilégios das classes médias, entre as quais o grupo compacto dos serviços públicos ocupa um lugar particularmente bem defendido. A Europa Ocidental é uma região que podemos chamar de democrática; não é mais movida por um esforço de democratização. As grandes lutas contra a desigualdade social terminaram; a única exceção é provavelmente a França, onde nos últimos anos pelo menos duas leis importantes foram aprovadas sobre o acesso gratuito de todos ao sistema médico e sobre o reforço da ajuda às pessoas idosas dependentes, medidas que se tornaram menos visíveis pelo importante número de trabalhos que foram dedicados à política de redução da jornada de trabalho, cujos efeitos, também aqui, parecem cada vez mais ambíguos. No conjunto desses países ricos, em reação às proteções excessivas dadas pelos Estados social-democratas às categorias médias e sobretudo aos funcionários públicos, vimos até se desenvolver poderosos movimentos populistas, voltados seja para os assalariados precários, seja para os pequenos comerciantes, artesãos e empresários ameaçados pela abertura das fronteiras. Assim, a imagem que a Europa Ocidental passa é a de uma evolução ordenada para a direita liberal, completada por uma desorganização do que foi o "welfare state" e o crescimento de forças de reclamação, das quais sempre podemos temer que assumam um tom antidemocrático, mesmo que os perigos continuem limitados enquanto a Alemanha não for afetada por tal movimento. É mais difícil avaliar a perda de criação e de influência da Europa nos domínios culturais. Aqui nos contentamos facilmente demais com julgamentos apressados sobre a ditadura de Hollywood ou a proliferação dos McDonald's. Parece, ao contrário, que é na ordem cultural que o julgamento deve ser menos inquieto. Diversificação cultural No campo das ciências, a integração dos laboratórios já está bastante avançada para que uma parte importante dos cientistas europeus participe em primeira mão dos progressos da ciência. No nível das produções culturais populares, a dominação dos EUA, que era absoluta, se enfraqueceu ao mesmo tempo em que o mercado do cinema, por exemplo, se abriu para produções vindas de países muito diferentes, especialmente da Ásia. Enfim, em vários domínios encontramos em Paris, Londres, Frankfurt e também em Buenos Aires centros de criação que não têm nada a invejar aos existentes nos EUA. Mas não é possível passar da arte à idéia, muito mais ambiciosa, de que a Europa seria criadora de um tipo de cultura ao mesmo tempo de elite e de massa, profundamente diferente do tipo americano. É muito mais exato falar em uma diversificação interna dos modelos culturais, o que permite uma circulação acelerada de um lugar a outro, de um pólo de criação a outro, mas que torna quase insignificante a idéia de um modelo europeu de cultura oposto ao modelo norte-americano. É nessa perspectiva geral pouco animadora que devemos colocar os fatos políticos que levaram nos últimos anos a esquerda européia a perder a maioria de suas fortalezas e ao surgimento de movimentos de protesto de tipo populista nos países onde menos se esperava, como Noruega, Dinamarca ou Países Baixos. O que é preciso fazer agora? Antes de tudo, convencer os europeus, assim como os argentinos e muitos outros latino-americanos, de que não vivem num mundo de total dependência e que, embora os efeitos da dominação sejam maciços, é sempre possível ao mesmo tempo protestar, criticar e inovar. É essa vontade política, essa confiança em si mesmo que parece ter desaparecido. No caso europeu é muito visível. O entusiasmo pró-europeu desapareceu, e mesmo países pró e antieuropeus se opõem pacificamente. Os italianos foram por muito tempo dos mais acalorados partidários da Europa, que lhes permitia superar as fraquezas de suas instituições nacionais. Depois do grande esforço que eles fizeram e que teve resultados muito positivos, adotaram um programa de ação menos ambicioso, e a Itália é o melhor exemplo, talvez, de um país cuja ascensão econômica notável não se fez acompanhar de uma capacidade de ação autônoma, seja direta, seja através da construção européia. A Espanha certamente foi mais ativa, dada a importância de seus investimentos na América Latina, mas hoje está prejudicada pela difícil necessidade de proteger seus compromissos. Tenhamos a coragem de reconhecer que a lógica de guerra que vigora hoje não deixa quase espaço para todas as outras formas de vida internacional. Os americanos estão perfeitamente conscientes disso e não dão nenhuma importância aos avisos dados, mesmo por seus melhores aliados, que são os ingleses. É o presidente dos Estados Unidos que detém o total e completo controle da política da Otan (aliança militar ocidental). É preciso concluir que a era das lutas entre Estados nacionais está ultrapassada e que hoje não há mais vida internacional senão no nível dos impérios e daqueles que os desafiam; que não há outro combate significativo fora daquele conduzido pelas ondas sucessivas de militantes árabes; que, à medida que se multiplicam e se prolongam os fracassos de sua modernização, se voltam para a violência que torna sua ação mais espetacular mas que também os isola? Gostaríamos ao menos de que o conjunto dos países onde existe certa capacidade de reflexão e de ação tomasse a palavra de maneira mais clara para indicar os riscos extremos a que essa polarização excessiva nos expõe a todos -e por consequência fizesse surgir opções e, portanto, responsabilidades possíveis. Ainda é preciso que os governos e as populações envolvidas, fora os Estados Unidos, aceitem conceber esperanças e assumir riscos que às vezes é cômodo e tentador recusar, para satisfazer-se com a "aurea mediocritas". Alain Touraine é sociólogo, diretor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, e autor de, entre outros, "A Crítica da Modernidade" (ed. Vozes). Tradução de Luiz Roberto Mendes Gonçalves. Texto Anterior: Casamento sem banquete Próximo Texto: + livros: Um mestre em ruínas Índice |
|
|