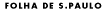|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
"EUA querem ser vistos como libertadores", diz Rice
RICHARD WOLFFE
JAMES HARDING
DO "FINANCIAL TIMES"
Numa estante de livros diante
da mesa de Condoleezza Rice há
uma foto do que parecem ser três
bons amigos abraçados. De um
lado está Tony Blair. Do outro,
George W. Bush numa jaqueta de
couro de aviador. Entre os dois,
sorridente, está Rice, a assessora
de Segurança Nacional de Bush.
A foto foi tirada em tempos
mais felizes do que os atuais -em
fevereiro de 2001, numa cabana
rústica no retiro presidencial de
Camp David. Mas o tema que dominou aquelas primeiras conversas entre o presidente americano
recém-empossado e o premiê britânico hoje nos soa mais do que
familiar: como conter o Iraque.
Mais de 18 meses mais tarde,
Condoleezza Rice ainda está no
cerne do que continua a ser uma
coalizão de apenas dois países dispostos a entrar em ação militar
para derrubar Saddam Hussein.
Essa coalizão limitada não é o
que Rice e Bush tinham em mente
antes de assumir o poder. Na realidade, a equipe de política externa de Bush criticou a Casa Branca
de Clinton diversas vezes por ter
permitido que a coalizão formada
para travar a Guerra do Golfo, em
1991, se desfizesse. No entanto,
depois de dois anos no controle
da política externa americana,
Bush e Rice enfrentam o mesmo
desafio: como exercer o poder dos
EUA contra o Iraque, num mundo que, em grande medida, não
lhes dá seu apoio. Contra a oposição declarada dos Estados árabes
e as dúvidas formuladas por Rússia, Alemanha e França, a Casa
Branca se aproxima rapidamente
de um momento decisivo.
Tendo desafiado a ONU a tomar uma atitude contra o Iraque,
Bush terá agora de decidir se espera uma nova rodada de inspeções de armas pela ONU ou se desarma o Iraque à força.
No momento atual, em que o
governo Bush fez uma nova declaração de missão mencionando
o objetivo de sua "força inusitada
e inigualada no mundo", os EUA
se vêem divididos entre os desejos
conflitantes de buscar aliados e
agir de maneira independente.
Condoleezza Rice reconhece essa tensão. Numa entrevista que
concedeu em seu gabinete na ala
oeste da Casa Branca, ela disse: "O
presidente realmente quer uma
resolução do Conselho de Segurança que preveja medidas eficazes. Porque, agora, tendo dito que
esta ameaça existe e que Saddam
precisa obedecer, não podemos
nos dar ao luxo de repetir o erro
dos últimos 11 anos e permitir que
ele nos escape outra vez".
É provável que essa decisão
quanto a seguir adiante ou não
com as inspeções da ONU defina
o rumo futuro da política externa
americana, tanto quanto ela definirá o destino do Iraque.
"Se o Conselho de Segurança
não conseguir aceitar a proposta
de uma ação decisiva, então os
EUA e quem se dispuser a juntar-se a nós terão de cuidar desse problema", disse Rice.
"Libertadores"
Embora administrações americanas anteriores tenham ignorado a ONU -Clinton lançou ataques contra forças sérvias e iraquianas sem autorização da
ONU-, Bush tem uma pauta
muito mais ambiciosa e agressiva
para defender o que chama de
"triunfo da liberdade".
"Os EUA gostariam de ser vistos
como libertadores", diz Rice, referindo-se ao Iraque. "E estou certa
de que qualquer um que porventura se una a nós, o Reino Unido,
a França ou qualquer outra das
grandes democracias, também
gostaria de ser visto assim."
Como deixa claro o primeiro
documento da administração sobre a estratégia de segurança nacional, os EUA gozam de poderio
militar sem paralelos e estão dispostos a fazer uso preventivo e
unilateral desse poderio.
Ao mesmo tempo, a administração Bush acredita compartilhar com outras chamadas grandes potências -Europa, China,
Rússia- valores comuns e um
inimigo comum, sob a forma da
"violência e do caos do terrorismo".
Em suma, Rice e Bush acreditam que possam ao mesmo tempo dominar outros países e construir alianças com eles. A supremacia militar dos EUA, argumentam, deve dissuadir outros países
de tentar fortalecer seu próprio
setor militar, acabando por favorecer a cooperação em outras
áreas. A base da visão de mundo
de Rice é sua velha área de conhecimento especializado, a Rússia.
Já bem antes do 11 de setembro,
Bush e Rice acreditavam poder
criar com o presidente Vladimir
Putin um relacionamento novo,
mais flexível. Essa esperança mostrou ter fundamento quando Putin aceitou a retirada dos EUA do
Tratado Antimísseis Balísticos, de
1972, e negociou reduções acentuadas nas armas nucleares estratégicas. Também mostrou dar
certo quando os EUA enviaram
tropas para as repúblicas ex-soviéticas da Ásia central, ao lançar
sua guerra no Afeganistão.
Agora, porém, Moscou vem
opondo resistência às pressões
para que interrompa a construção
da usina nuclear de Bushehr, no
Irã, que Washington acredita ser
central para os esforços de Teerã
de desenvolver armas nucleares.
Ademais, a Rússia faz oposição à
proposta de que a ONU lance nova resolução contra o Iraque.
Os EUA, indica Rice, estão aplicando pressão tanto estratégica
quando comercial, oferecendo a
possibilidade de ajuda à indústria
energética russa.
Mais incerta é a relação com a
China. A análise das grandes potências, conforme articulada por
Condoleezza Rice, busca um relacionamento construtivo, mas reconhece que existem "várias preocupações estratégicas", especialmente no sul da Ásia e em Taiwan. É ali que os EUA esperam
que a superioridade militar avassaladora vá dissuadir a China de
entrar numa corrida armamentista, dedicando seus recursos à busca de prosperidade econômica
para sua imensa população.
Mas, no momento em que se
prepara para enfrentar o Iraque, o
governo Bush enfrenta uma pergunta difícil: por que agora? O
que, na natureza da ameaça de
proliferação, mudou a ponto de
exigir o uso imediato da força?
Afinal, foi a própria Rice, em
2000, que disse que os "Estados
delinquentes", incluindo o Iraque, estavam "vivendo com tempo emprestado, de modo que não
é preciso criar um pânico em torno deles". "Em lugar disso", escreveu na revista "Foreign Affairs", "a primeira linha de defesa
deve ser a afirmação inequívoca
de dissuasão: se eles realmente se
dotarem de armas de destruição
em massa, elas não poderão ser
usadas, porque qualquer tentativa
de fazê-lo provocará a obliteração
nacional". Rice diz, hoje, em tom
de brincadeira, que ela escreveu,
na época, na condição de acadêmica (ela era diretora da Universidade Stanford), e que "acadêmicos podem escrever qualquer coisa". Mas ela também acha que os
tempos mudaram.
Sem aviso prévio
Rice acredita que, ao descartar
as doutrinas de contenção e dissuasão que marcaram a Guerra
Fria, os EUA ingressaram numa
era em que não podem prever como o inimigo irá se comportar,
como podiam fazer com a URSS.
"Depois de 11 de setembro, é preciso levar em conta o número de
ameaças que não podem ser impedidas. Não tivemos nenhum
aviso prévio de 11 de setembro.
Quando você lida com Estados
hostis que são agressivos e têm capacidades altamente assimétricas
com as suas, é possível que não receba nenhum aviso prévio."
Talvez seja essa a melhor explicação do porquê de os EUA terem
adotado estratégia tão agressiva
de segurança num momento em
que seu poderio militar, político e
econômico é inconteste. O 11 de
setembro provocou uma mudança radical na confiança dos EUA
naquilo que seu poderio pode
realizar, tanto em termos segurança doméstica quanto em guerras em terras distantes.
Por baixo do conceito de um
ataque preventivo contra o Iraque
existe tanto o receio real de outro
ataque contra os EUA quanto a
convicção clara de que os EUA
venceriam outro conflito de maneira tão decisiva quanto triunfaram sobre o Taleban. "Um fato
interessante é que 11 de setembro
esclareceu muitas coisas sobre o
tipo de ameaça que enfrentamos
no pós-Guerra Fria", diz Rice.
"Vejo a queda da URSS e o 11 de
setembro como o começo e o fim
de um processo. As pessoas se
preocuparam em saber como seria a próxima ameaça e comentavam que talvez houvesse um desastre humanitário, talvez um
conflito étnico. Fica claro que, na
realidade, estamos falando em extremismo, em armas de destruição em massa, tecnologias que
conferem uma vantagem assimétrica a países que não podem mobilizar um poderio militar grande,
e o possível nexo entre eles."
Deixando de lado a estrutura
militar, os EUA também querem
enfrentar seu novo inimigo, o
"extremismo", com meios mais
brandos. A estratégia de segurança nacional enfatiza a importância tanto de ampliar o livre comércio quanto de aumentar a assistência aos países em desenvolvimento. Os EUA, diz Rice, estão
comprometidos com o que ela
chama de "a democratização ou o
avanço da liberdade no mundo
muçulmano". Ela observa, em
tom de admiração, países que
passam por reformas ou contemplam essa possibilidade, entre eles
Bahrein, Qatar e Jordânia.
"Os EUA ocupam, sob muitos
aspectos, uma posição incomum", ela argumenta. "Historicamente, existem apenas alguns
poucos países que estiveram nessa posição, com uma preponderância do poderio militar", diz.
"Disso vêm certas responsabilidades de criar um ambiente em
que determinados valores possam frutificar. Se a URSS tivesse
vencido a Guerra Fria, não estaríamos falando no avanço da liberdade, mas no avanço de um
conjunto inteiramente diferente
de valores."
Tradução de Clara Allain
Texto Anterior: Artigo: Obsessão pelos EUA atrapalha nosso julgamento
Próximo Texto: Oriente Médio: Protestos marcam aniversário da Intifada
Índice
|