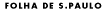|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
ARTIGO
Lembranças de Roberto Marinho
MARIO SERGIO CONTI
ESPECIAL PARA A FOLHA, EM PARIS
Na tarde da segunda-feira do
Carnaval de 1994, João Roberto Marinho chegou com uma
fita de vídeo à casa do pai, na praia
da Mombaça, em Angra dos Reis.
João Roberto conversou com alguns dos convidados para o almoço, os governadores Ciro Gomes, do Ceará, e Luiz Antônio
Fleury Filho, de São Paulo. E logo
foi com Roberto Marinho para
uma sala onde havia um aparelho
de vídeo.
A fita continha cenas gravadas
pela Globo, na noite anterior, no
Sambódromo. Elas mostravam o
presidente Itamar Franco ao lado
da vedete Lílian Ramos, que, embalada, sambava sem calcinha.
Roberto Marinho viu a fita inteira sem um sorriso. João Roberto queria saber se o pai achava que
as cenas deveriam ser levadas ao
ar pela Globo. "Vamos mostrar
tudo no "Jornal Nacional" de hoje,
sem comentários", disse o dono
da emissora. Pouco depois, Roberto Marinho me disse: "Esse
Itamar é um cafajeste".
Foi uma das raríssimas vezes,
em quase 20 anos de convívio,
que vi Roberto Marinho irritado.
E foi a última vez que o vi exercer
o poder em plenitude. O poder de
levar às casas de praticamente todos os brasileiros uma versão da
realidade (a jornalística) e suas
variadas imagens ficcionais (as
novelas). Ele tinha então 89 anos.

Três anos depois, num outro
Carnaval, na mesma casa, já não
havia nenhum político. Eles foram os primeiros a perceber que o
patriarca da Globo paulatinamente deixava de exercer o poder,
na medida em que diminuía a sua
capacidade de concentração e de
entendimento das nuances da política nacional.
Roberto Marinho assistiu a um
pedaço do desfile do Sambódromo. Ficou impressionado com a
nudez generalizada e com as cenas em câmera lenta de requebrados lascivos. "Mas você tem certeza que a televisão está mesmo na
Globo?", perguntou a Lily, sua
mulher. "Então vou ligar para o
Boni", disse, referindo-se ao vice-presidente executivo da rede, José
Bonifácio de Oliveira Sobrinho.
Depois, achou melhor telefonar
no dia seguinte. Acabou não telefonando. A Globo andava sozinha, sem ele.

O dono da Globo era um homem afável e modesto. Nunca levantava a voz ou dizia palavrões.
Detestava reuniões, relatórios,
analistas, discussões estratégicas.
Preferia contar e ouvir casos, em
longas conversas a dois. Só se vangloriava de seus feitos esportivos,
como a vez em que ficou três minutos no fundo do mar e voltou à
tona com uma garoupa gigantesca. "Devo ter batido algum recorde", dizia.
Gostava de mulheres: de contemplá-las, seduzi-las, ouvi-las e
fazer-lhes galanteios. "Com essa
calça branca e essa blusa estampada com motivos roxos, você está
parecendo uma orquídea no seu
esplendor, Lily", disse certa vez.
Fora um matador na juventude
(casou a primeira das três vezes
aos 42 anos). Tinha uma garçonnière muito frequentada.
Gostava de ler jornais. Todas as
manhãs, lia "O Globo" de cabo a
rabo, dava uma olhada na concorrência, o finado "Jornal do Brasil",
e dedicava atenção especial à Folha. Nunca o vi com um livro na
mão. Mas sempre citava Charles
Dickens, uma das suas admirações da juventude.
Gostava da natureza. De nadar,
cavalgar, pescar, ver bichos, passear em jardins. Na casa de Angra
ou na mansão no Cosme Velho,
no Rio, dizia: "Vamos sentar lá
perto do jardim para ver o balé
dos flamingos". Os flamingos, da
África do Sul, valsavam para lá e
para cá, para o renovado deslumbre de Roberto Marinho.

Roberto Marinho não gostava
de política. Gostava de políticos.
De políticos de nomeada. Não tinha paciência para o jogo de partidos, bancadas, leis e assembléias. Preferia ouvi-los a dar-lhes
conselhos. Fazia então as suas escolhas. Achava imperativo que os
órgãos de imprensa escolhessem
e apoiassem políticos.
Aprendera a lição na juventude.
Com a morte do pai, em 1925, não
se sentira em condições de dirigir
"O Globo", fundado semanas antes. Passou a tarefa para Euricles
de Mattos (1888-1931), a quem
obedecia sem discutir. Nas eleições de 1930, Mattos dizia ao patrão e subordinado que o jornal
não deveria apoiar nenhum candidato. "Júlio Prestes e Getúlio
Vargas são vinho da mesma pipa", lhe falava Mattos. Roberto
Marinho aquiescia a contragosto.
Achava que Getúlio e Júlio Prestes
eram vinhos de pipas bem diferentes, que um era melhor e o outro, pior. "O Globo" acabou
apoiando a Revolução de 30.
Roberto Marinho fez com que
seu império jornalístico apoiasse
Getúlio, Dutra, Jânio, Castello
Branco, Costa e Silva, a junta militar, Geisel, Figueiredo, Tancredo,
Sarney, Collor e Fernando Henrique. Mas quem lhe deu concessões de televisão foram Juscelino,
que ele criticava, e João Goulart,
contra quem conspirou para derrubar da Presidência.

Em 1989, Roberto Marinho queria apoiar a campanha de Jânio
Quadros à Presidência. Mas Jânio
ficou doente e não saiu candidato.
Tentou então apoiar Orestes
Quércia, que preferiu que Ulysses
Guimarães fosse o candidato do
PMDB. Ficou sem candidato.
Uma situação perigosa, pois Leonel Brizola era candidato e tinha
chances reais de vencer. Tinha
horror a Brizola. Nada de pessoal.
Só que o político garantira que,
eleito, seu primeiro ato seria acabar com o poder da Globo. "Eu
quero apoiar alguém que ganhe
do Brizola", disse inúmeras vezes.
Por sugestão de Jorge Serpa, deu
ampla divulgação ao discurso de
despedida do Senado de Mário
Covas, que assumiu a candidatura dos tucanos. Não gostava de
Covas nem de suas idéias, que
achava conservadoras e nacionalistas. E não achava que tivesse
condições de vencer Brizola.
Havia Fernando Collor. Mas o
dono da Globo não gostava do
pai, do irmão nem do próprio
Collor. Tivera negócios com o senador Arnon de Mello, que foi seu
sócio na construção do primeiro
shopping center do Rio, em Copacabana. Sempre suspeitou que
Arnon lhe passara a perna.
O primogênito de Arnon, Leopoldo, fora diretor regional da Rede Globo em São Paulo, e passou
por uma investigação interna que
culminou em sua demissão. Por
fim, considerava Fernando Collor
um playboy inconsequente.
Achava de mau gosto as camisas
de punhos dobrados do, como dizia, "filho do Arnon". O único
Collor que admirava era o caçula,
Pedro. "Fez um ótimo trabalho
como administrador da emissora
da Globo em Alagoas", dizia.
Passou a se encontrar com Collor. E mudou de opinião: achou-o
dinâmico, preparado e em condições de vencer sua nêmesis. Só o
apoiou de público em agosto,
quando Collor tinha 45% da preferência dos eleitores, contra 11%
de Brizola e 9% de Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT.
É um mito da política nacional o
de que Roberto Marinho e a Globo "fizeram" Collor. O que ele fez,
isto sim, foi mandar que a célebre
edição do debate final entre Lula e
Collor, levada ao ar pelo "Jornal
Nacional", mostrasse claramente
que o candidato do PRN saíra-se
melhor que o petista. E foram
seus subordinados jornalistas que
providenciaram uma edição, que,
contra as próprias regras da Globo, deu um minuto e 12 segundos
a mais de vídeo para Collor.
A edição do debate provocou a
única briga séria entre o empresário e seu braço direito na Globo,
Boni. Divergiram publicamente,
nos jornais, o que nunca houve
antes nem depois. Na semana seguinte, a relação deles voltaria a
ser de amigos e companheiros.

Conheci Roberto Marinho como responsável pela cobertura televisiva de "Veja", em 1984. No
princípio, ele me dava notícias em
"off". Depois, me passou notícias
exclusivas. Em 1989, um grande
furo: uma reportagem de quatro
páginas sobre a sua separação de
Ruth Albuquerque e seu romance
com Lily de Carvalho.
Passei a frequentá-los. Não passava semana sem falarmos ao telefone nem mês sem que nos encontrássemos. Quando fui nomeado diretor de "Veja", fez um
jantar em minha homenagem.
Em julho de 1992, "Veja" publicava reportagens semanais sobre
a corrupção no governo Collor.
Roberto Marinho dizia que era
um erro, que Collor era "um pouco estróina", mas, no fim das contas, um bom presidente.
No dia 11, "Veja" chegou às bancas com uma capa com uma fotomontagem do rosto do presidente
do Banco do Brasil com chapéu
de couro e a manchete: "O cangaceiro do Planalto".
Roberto Marinho telefonou assim que leu a reportagem. Seu
tom era severo. "Você passou das
medidas", disse. "Neste país, não
se briga com o presidente do Banco do Brasil". Disse-me que eu colocava em risco minha carreira e o
patrimônio de Roberto Civita, o
dono da revista. Disse-lhe que a
intenção era dar um chega-pra-lá
nas pressões que o governo fazia
sobre a revista e a editora Abril.
"Mas há maneiras e maneiras de
fazer isso. Precisava colocar aquele chapéu?" O seu receio era de
que Collor, se continuasse no poder (o que Roberto Marinho desejava e se esforçava para conseguir), se vingasse materialmente
de "Veja", da Abril e de mim.
Nem ele me convenceu nem eu
consegui demovê-lo. Sua última
frase, antes das despedidas, foi a
seguinte: "Se você tiver algum
problema, fale comigo". Só um
amigo diz uma coisa dessas.

Toda amizade tem arestas. Roberto Marinho nunca se queixou
de nenhuma reportagem da revista criticando programas da Rede
Globo. Era sempre elogioso. Na
verdade, ele reclamou uma vez.
Era uma reportagem de capa que
atacava a Globo por estar lançando uma loteria chamada Papatudo, iniciativa do empresário Artur
Falk que Roberto Marinho encampou com entusiasmo.
Ele me convidou para almoçar.
"Jamais esperava isso de você",
disse. "Você acha que eu quero fazer essa loteria porque preciso de
mais dinheiro? O que eu quero é
fazer. É ver as coisas crescerem".
Dei minhas explicações. Ele rebateu uma por uma. Reconheceu
que o tema era jornalístico e polêmico. Despedimo-nos afavelmente. Nunca mais falamos do
assunto.

A frase "o que quero é fazer" lhe
é definidora. Define todo grande
empresário. Construir, plantar,
frutificar e colher, ver a matéria e a
engrenagem humana substituírem o nada era a mola que lançou
Roberto Marinho num extraordinário número de empreitadas.

Uma vez, me levou para visitar o
Projac, a cidade-estúdio da Globo
em Jacarepaguá. Tinha dúvidas
pertinazes, mas primárias para
um empresário de televisão, que
sanava com humildade:
- "Boni, quanto custou essa
câmera?", perguntou.
- "Cento e vinte e cinco mil
dólares, doutor Roberto."
- "E quantas você comprou?"
- "Doze, doutor Roberto."
- "Não dava para comprar só
seis?"
- "Não, porque..."
- "Deixa para lá, Boni", atalhou o empresário.
Na saída, me disse: "Não entendo nada de televisão, mas não espalhe".

"Sou um jornalista, um jornalista de redação, de banca", respondeu-me nas vezes em que pedi
que se definisse. Sua formação foi
na redação de "O Globo". Lia e copidescava matérias, fazia títulos,
escrevia editoriais, inventava pautas, cobrava, contratava, demitia,
decidia manchetes de primeira
página. "Nunca quis ser outra coisa na vida."

Roberto Marinho não falava do
Brasil. Não tinha uma concepção
de país pronta na cabeça. Tinha
opiniões. E idéias. Algumas surpreendentes. Como a de que faltavam guerras na história do Brasil.
"As guerras forjam a nacionalidade, unem o povo. Veja a França,
veja os Estados Unidos. Todos os
países desenvolvidos passaram
por guerras sangrentas."

Roberto Marinho não era de
confidências. Sempre tornava públicas as suas preferências, se não
em palavras, em atitudes e gestos.
A mulher de sua vida? "Lily",
respondia antes de terminar a
pergunta. Simplesmente ignorava
as duas ex-esposas e as dezenas de
namoradas. Não falava com elas.
O homem de que mais gosta?
"O João", respondeu ao longo de
quase duas décadas, referindo-se
ao filho João Roberto.
Não era fã de crianças. Fazia
brincadeirinhas curtas com os netos e tinha um carinho especial
pelo primeiro neto, filho de Roberto Irineu. Gostava de adultos.
De conversar com os homens. E
de admirar e amar as mulheres.

Não tinha medo da morte. Era
um ateu convicto. "Não acredito
em nada: morreu, acabou", dizia.
O que não o impedia de se aproximar e cortejar cardeais, sobretudo
os do Rio, de Hélder Câmara a Eugênio Salles. Para fazer política.
Também não temia o julgamento da história. Sim, apoiara a ditadura de Getúlio e a dos militares.
E nunca se arrependeu. Não era
um democrata. Nem um defensor
de regimes autoritários ou totalitários. Adaptava-se às circunstâncias políticas. "Sou um realista."
Claro que defendia a iniciativa
privada. Era o ar que respirava.
Mas desconfio de que se daria
bem numa monarquia absolutista ou no stalinismo.
Desde que pudesse fazer.
Mario Sergio Conti é correspondente
da Rádio e TV Bandeirantes em Paris e
do site nomínimo.com e autor de "Notícias do Planalto" (Companhia das Letras)
Texto Anterior: Cinema digital: Brasil tenta vôo ousado com efeitos especiais
Próximo Texto: Livro/lançamento: Em "Diário", jornalismo sério também é bonito
Índice
|