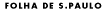|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
OPINIÃO ECONÔMICA
Direito à saúde e à vida
RUBENS RICUPERO
Chegou a 70% a economia
que o governo brasileiro arrancou dos laboratórios ao negociar o barateamento dos remédios essenciais do coquetel de
combate à Aids. Como foi possível
obter tal redução de monopólios
protegidos por governos poderosos? Graças a um dos "espaços de
flexibilidade para políticas de desenvolvimento" que devem ser
preservados, de acordo com o discurso de posse de Lula. Nesse mesmo discurso, o presidente rejeita
as "restrições inaceitáveis ao direito soberano do povo brasileiro
de decidir sobre seu modelo".
Infelizmente, a tentativa de impor tais restrições segue mais viva
que nunca. É o que se viu ao fracassar, na véspera do Natal, a negociação para dar segurança operacional ao direito reconhecido
aos pobres (e a todos) de proteger
a saúde pública sem "restrições
inaceitáveis" devidas à propriedade intelectual. Esse direito tinha saído reforçado de Doha, da
reunião da OMC (Organização
Mundial de Comércio). Na ocasião, as nações industrializadas
flexibilizaram suas posições em
parte por precisarem do apoio dos
subdesenvolvidos para lançar novas negociações comerciais, em
parte porque haviam sido pressionadas pela opinião pública mundial, comovida com a tragédia da
Aids na África e inspirada pelo
bem-sucedido programa brasileiro de combate à pandemia.
Esse programa nasceu de projeto do presidente Sarney, que garante tratamento gratuito a todo
brasileiro sofrendo de Aids. Generosa a ponto de não ter paralelo
mesmo em países avançados, a
iniciativa seria inviável para nação pobre como a nossa, caso não
se reduzisse o custo do coquetel.
Graças à energia e à tenacidade
do ministro Serra, arrancou-se
dos laboratórios o barateamento.
Como os laboratórios dispunham
do monopólio do controle de certos componentes do coquetel, o
ministro teve de fazer-lhes ver que
o Brasil recorreria à "licença compulsória" se eles não cedessem. Isso significa que a patente seria
rompida e o medicamento poderia ser produzido como genérico.
Para dar credibilidade à hipótese,
era preciso que o laboratório público de Manguinhos estivesse em
condições de realizar a tarefa, o
que foi parcialmente demonstrado pelo desempenho de uma farmacêutica brasileira, petista por
sinal, que aparece como heroína
na notável reportagem da revista
do "New York Times", que consagrou mundialmente o programa
brasileiro. Se realço aqui a contribuição de personalidades com filiação política diversa é apenas
para mostrar que o programa
não pertence só a um governo,
mas a todo o povo brasileiro, embora alguns indivíduos se tenham
assinalado na sua execução.
Mas tudo repousava em base
juridicamente contestável: a licença compulsória e a "importação paralela", isto é, a importação de fabricante que não detenha a patente. Essa alternativa
seria necessária se fracassassem
as negociações com os laboratórios, pois o Brasil, ao contrário da
Índia, não possui capacidade para produzir as moléculas primárias. Tanto a licença quanto a importação eram, no passado recente, direitos líquidos e certos segundo a Convenção de Paris, o código
tradicional da propriedade industrial, que se esforçava em
equilibrar o monopólio temporário representado pela patente
com instrumentos visando a evitar o abuso desse direito exclusivo. Insatisfeitos com a flexibilidade da Convenção de Paris e motivados por sua influente indústria
farmacêutica, os americanos, eficazmente auxiliados pelos europeus e outros desenvolvidos, desequilibraram o jogo na Rodada do
Uruguai com o acordo Trips sobre
"aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio".
Esse acordo não só eliminou boa
parte da flexibilidade anterior como tornou ambíguo e confuso o
recurso à licença e à importação.
Com vistas a impedir que o torniquete apertasse ainda mais, os
subdesenvolvidos condicionaram
em Doha o lançamento da rodada à aprovação de declaração separada reconhecendo que nada,
no acordo Trips, pode impedir
que um país tome medidas necessárias à proteção da saúde pública. Foi uma grande vitória da delegação brasileira, com destaque
mais uma vez a José Serra, mas
também a Lafer, a Celso Amorim,
então embaixador em Genebra, e
a Seixas Corrêa, seu sucessor, outro esforço coletivo de figuras do
anterior e do atual governo.
Faltava, contudo, um pequeno
detalhe: tornar operacionais as
modalidades de importação para
países sem capacidade própria
em indústria farmacêutica. Como
sabem os americanos, "o diabo
costuma estar nos detalhes". No
caso, o diabo foram as grandes indústrias farmacêuticas, cuja ajuda teria sido decisiva na reconquista do Senado dos EUA pelos
republicanos. Devido a esse poder
acrescido e como os ricos já não
necessitam mais do acordo dos
subdesenvolvidos para lançar as
negociações, ficou o dito pelo não
dito. Tentou-se primeiro restringir o direito apenas aos mais pobres, jogando os africanos contra
nós, que acabaríamos excluídos.
Não tendo colado a manobra,
passou-se a exigir lista que limite
as doenças às quais se possa aplicar o procedimento. Pode parecer
razoável, mas o problema é que
nenhuma dessas exigências constava da declaração de Doha, fruto
de delicado equilíbrio. Aceitá-las
será começar a ceder, sem contrapartida, parte do pouco que se
conseguiu, já que a vitória de Doha permitiu reconquistar apenas
parcela insignificante do enorme
espaço entregue, de mãos beijadas, na Rodada do Uruguai. Na
véspera de Natal, os subdesenvolvidos fizeram o que deviam: preferiram não ter acordo nenhum e
ficar com a declaração em vez de
enfraquecê-la em troca de mau
acordo. Os poderosos sofreram
grande desgaste ao não respeitar
o prazo de dezembro, isolando-se
em atitude de insensibilidade em
relação às promessas de Doha e às
aspirações de maior espaço para
as políticas de desenvolvimento.
Ainda não se pode dizer, como na
ópera, "la commedia è finita". As
pressões se renovam para um
acordo em fevereiro. Junto do desafio da Alca, esse será o primeiro
teste do novo governo na defesa
do "direito soberano do povo brasileiro de decidir sobre seu modelo de desenvolvimento". Decisão,
no caso, entre os interesses comerciais dos grandes laboratórios e o
direito à saúde e à vida de milhões de pessoas.
Rubens Ricupero, 65, é secretário-geral
da Unctad (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento),
mas expressa seus pontos de vista em
caráter pessoal. Foi ministro da Fazenda
(governo Itamar Franco).
Texto Anterior: Tendências internacionais: Pacote de Bush não produz retomada
Próximo Texto: Lições contemporâneas: Os neocríticos
Índice
|