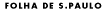|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
Entrevista
Eduardo Lago
do "El País"
Saint Louis, Missouri, 1984. São essas as coordenadas de "The Twenty-Seventh City" [A 27ª Cidade], cenário da fantasia neo-orwelliana publicada
por Jonathan Franzen (1959) quando tinha apenas 29 anos. Foi sua estréia como escritor, mas não escapou a ninguém que acabava de surgir uma figura de primeira ordem na cena literária de seu país. Seguiram-se
"A Strong Motion" (1992) e "As Correções", romance
que protagonizou uma das peripécias editoriais mais
assombrosas dos últimos tempos.
Laureado com prêmios de grande prestígio e sancionado pela crítica mais rigorosa -nos EUA e no exterior- como um escritor de altos méritos, o maior êxito
de Franzen é ter conseguido que milhões de homens e
mulheres que se haviam afastado da boa literatura quisessem voltar a seu convívio. A entrevista abaixo transcorreu em Nova York. Franzen tem fama de arrogante,
mas na verdade é um homem tímido e afável. Pensa
longamente em suas respostas, interrompendo-se de
vez em quando para ter certeza de que a conversa vai
pelos rumos adequados.
O extraordinário sucesso de "As Correções" modificou
muito sua vida?
Talvez tenha temperado um pouco meu caráter. Antes havia 20 pessoas no mundo editorial que eu teria
gostado de assassinar, agora só assassinaria oito.
Como o sr. vê hoje seu primeiro romance, 15 anos depois?
Como escritor sempre tendo a repudiar o que já fiz, o
que é ao mesmo tempo um peso e um privilégio. Como leitor, a coisa muda. Continuo gostando muito
do livro. Ele tem força, do contrário não teria necessidade de me rebelar contra ele. Além disso, pelo menos na minha opinião, é muito divertido. Essencialmente, esse será também o mesmo mundo de meus
romances posteriores, "Strong Motion" e "As Correções". Em todos eles trato de famílias que vivem no
Centro-Oeste americano e que passam por dificuldades extremas, política e emocionalmente.
Todos os meus romances conjugam preocupações
de ordem íntima com questões sociais. Em "A 27ª
Cidade" têm papel importante alguns terroristas que
conseguem se infiltrar no coração dos Estados Unidos. Uma das coisas mais atraentes do ofício de escrever romances é ver como às vezes o mundo imita
histórias que imaginamos dez ou 15 anos antes.
O sr. também poderia falar sobre "Talvez Sonhar", sua
polêmica reflexão sobre o futuro do romance, incluída
em "Como Estar Só"?
Houve um tempo em que, diante da falta de interesse das pessoas pela literatura, cheguei a pensar na
possibilidade de mudar de profissão. Estava praticamente convencido de que o ofício de romancista era
uma profissão obsoleta. Na primeira parte do ensaio
examino as causas dessa situação. Na segunda abre-se uma porta para a esperança.
Como o sr. recuperou a fé nas possibilidades do romance?
Devo isso aos estudos de uma catedrática de literatura e antropologia linguística, Shirley Heath [professora na Universidade Stanford", que entrevistou um
grande número de pessoas que proclamaram sua
necessidade de ler literatura de ficção. Isso me fez
constatar que, apesar do poder absoluto dos novos
meios de comunicação, continuava existindo um
público ávido por bons romances. Em segundo lugar, graças a Heath, entendi melhor a mim mesmo
como leitor e como escritor. Rejeitei a idéia do escritor como gênio diante de um leitor minúsculo, assim
como a existência de uma hierarquia entre diversos
tipos de leitores. Quando se começa a fazer distinções entre públicos leitores, surge todo tipo de complicação. O estudo continha uma visão democrática
da literatura que combinava totalmente com a minha. Não creio que a literatura séria tenha de renunciar a ser uma forma de entretenimento. Esse modelo me parecia o mais atraente, ética e politicamente.
Pode-se dizer, então, que o sr. fez os ajustes necessários
para conseguir uma resposta positiva do grande público?
Um crítico inglês muito inteligente e hostil chegou a
dizer que "Talvez Sonhar" não passava de um estudo
de mercado e "As Correções" era a aplicação prática
das conclusões, para atingir a maior vendagem possível -mas isso não é verdade. Não sou tão cínico.
O ensaio me deu permissão para jogar fora coisas
que não funcionavam e me concentrar na boa escrita. A única coisa a que me propus foi trabalhar duro
até ver o romance terminado. É claro que o livro é
muito pensado e planejado, mas se trata de uma reflexão séria. Em todo momento atuo guiado por motivações artísticas.
SE, EM VEZ DE PASSAR OITO HORAS COLADA AO TELEVISOR,
UMA PESSOA DECIDISSE INVESTI-LAS NA LEITURA DE JOSEPH CONRAD, TERIA A SENSAÇÃO DE QUE FICOU PERIGOSAMENTE ILHADA
O sr. acredita que o pós-modernismo tenha levado o romance a um beco sem saída?
Quando examinei o cânone do que havia ocorrido
com a chamada literatura pós-moderna dos últimos
anos, percebi que muito do que se estava fazendo
não levava a nada. Escritores homens, dificílimos de
entender e muito egrégios, estavam apenas repetindo verdadeiros simplismos um atrás do outro, disfarçados de jogos formais supostamente de grande
interesse intelectual.
Levei 15 anos para compreender plenamente o que
deve haver em uma obra de ficção para que alcance
as pessoas. Compreendi que as exibições técnicas e a
utilização apenas de habilidades linguísticas podiam
causar um aborrecimento mortal no leitor. Sem renunciar a uma visão séria, o romancista tem a obrigação de entreter. Afinal não escrevemos para nós
mesmos, mas para os outros. Além disso, o pós-modernismo havia esquecido que a primeira lei da escrita novelística é criar personagens sólidos.
Como o senhor realiza isso pessoalmente?
De maneira constante há em minha cabeça de dez a
20 aproximações do que pode ser um personagem,
traços fragmentados que tomo da realidade, pode
ser alguém muito próximo ou uma pessoa que vi
uma vez só dez anos antes. Para mim, o processo de
construção de um livro consiste em fazer com que
esses fragmentos nebulosos se misturem, dando vida a personagens verossímeis, com profundidade
psicológica. No caso de "As Correções", o personagem mais fácil foi o de Alfred, porque era como estar
ouvindo a voz de meu pai. Quando tinha de descrever seus estados interiores escutava sua voz e me limitava a anotá-la. Os outros foram bem mais difíceis. Precisava em cada caso de motivações dramáticas concretas, e isso demorou anos, como com Gary
Lambert. Só entendi sua essência quando compreendi que seu conflito essencial era sofrer de uma
profunda depressão. O centro do romance é uma família real e verdadeira. Analiso a fundo os conflitos
que eles sofrem e que nos afetam como seres humanos, porque todos, como indivíduos, trazemos dentro de nós nossas famílias.
Por que o sr. diz que a redescoberta do tratamento das
paixões se deve às escritoras?
Porque foram as únicas que se preocuparam em escrever sobre isso. A descoberta de alguém como Alice Munro [1931" representou uma comoção para
mim. Na minha opinião é quem melhor escreve nos
EUA atualmente. Também devo muito a Paula Fox
[1923], uma escritora esquecida até pouco tempo
atrás, e várias outras. Em seus romances, elas se atrevem a criar situações explosivas, que levam o leitor
ao limite de certas experiências psicológicas. Imagine uma situação à qual poucos leitores adultos seriam alheios, como reunir um homem e sua ex-mulher em um quarto num sábado à tarde, durante algumas horas. Provoca-se uma situação incrivelmente complexa, que transborda de possibilidades, moral, psicológica e socialmente.
O sr. acha difícil escrever bem sobre sexo?
Quase impossível. É preciso ser um gênio como Philip Roth [1933". Escrever sobre todo recurso íntimo
constitui um desafio do qual é difícil sair vitorioso. O
sexo é um bom exemplo. Ele o obriga a examinar a
relação retórica que mantém com a página escrita e,
implicitamente, o tipo de relação que mantém com o
leitor. Antes dissemos que a escrita deve ser uma
fonte de gozo. A palavra chave aqui é "tom". O conteúdo é essencial quando se está escrevendo em certo nível, mas o conteúdo e a destreza linguística não
são nada se o tom não funcionar. É a primeira coisa
em que me detenho quando enfrento um manuscrito. Se o tom não funciona, jogo fora. No tratamento
ficcional do sexo, o tom é tudo.
Por que seu livro de ensaios se chama "Como Estar Só"?
Vivemos em uma época que marginaliza de maneira
fulminante quem se nega a participar dos rituais da
cultura de massa. Se você fosse morar nas montanhas durante seis meses, sem ver TV ou ler revistas,
ao voltar não teria idéia do que as pessoas falam: não
saberia quem são os atores e atrizes da moda, os músicos, os esportistas... Se, em vez de passar oito horas
colada ao televisor, uma pessoa decidisse investi-las
na leitura de Joseph Conrad, teria a sensação de que
ficou perigosamente ilhada. A possibilidade de sentir-se ilhado, verdadeiramente abandonado pelo
resto do mundo, hoje é maior do que nunca. As coisas funcionam de tal modo que levam a pessoa a se
sentir assim. Mas é preciso saber estar só. Se existe alguma alternativa a ter uma identidade de massa, no
limitado conjunto de opções que temos para ser pessoa, no sentido pleno da palavra, só é possível encontrá-la nas margens disso que falo.
Se pararmos para pensar, podem ocorrer paradoxos
muito curiosos. Um dos motivos pelos quais muitas
vezes desligo a TV e pego um livro é porque a TV me
faz sentir só e alienado, mas, se leio um bom livro,
me sinto acompanhado. Aproximo-me de outras
pessoas que sentem e vêem o mundo de maneira parecida com a minha. O fato de hoje em dia a leitura
estar ameaçada pela cultura de massa me faz indagar
se verdadeiramente levamos uma vida que podemos
chamar de nossa. Trata-se de ser indivíduos com
identidade própria, com uma história que é nossa, e
não uma história produzida de fora.
Essa é uma das funções primordiais da literatura:
nos permite não ser massa, mas indivíduos realizados, de posse de uma história verdadeira, autêntica,
decidida por nós mesmos. Um dos ensaios do livro é
sobre o que aconteceu com meu pai, que morreu vítima do mal de Alzheimer. O tema central do ensaio
não é a solidão, mas uma reflexão sobre o que significa ser um indivíduo que se vê gradualmente despojado de sua própria história. O que acontece quando
a doença avança é que, à medida que a personalidade se retrai, o indivíduo deixa de ser capaz de contar
sua própria história.
Em boa medida, viver consiste em construir narrativas que dão sentido ao que acontece. O processo de
ver meu pai desaparecer foi o que me permitiu tomar plena consciência de que todos somos as histórias que somos capazes de contar e de encarnar. Meu
pai não era apenas a entidade física chamada Earl
Franzen, mas alguém que desempenhava na minha
vida, na de minha mãe e na de todos os que o conheceram um papel que não é diferente daquele que desempenha um personagem em uma história... Enquanto sua mente se manteve, foi um personagem
de sua própria história.
O sr. se sente só como escritor?
Se consegui terminar "As Correções" foi porque me
sentia parte de uma comunidade de romancistas
sem cuja presença e alento eu não teria chegado a nada. Sinto que pessoas como David Foster Wallace,
Donald Antrim, Jeffrey Eugenides, Cathy Chetkovich, Lorrie Moore ou Dennis Johnson, entre muitos
outros autores, são meus irmãos. Sentem o mesmo
desespero que eu diante do estado atual das coisas
que acabo de descrever. Cultivam um tipo de escrita
que está vivo porque se mantém em contato com o
presente e ao mesmo tempo conserva um humanismo à moda antiga.
Tradução de Luiz Roberto Mendes Gonçalves.
Texto Anterior: Os terríveis Jonathans
Próximo Texto: O amigo americano
Índice
|