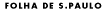|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
Intervenção humanitária perde credibilidade
Em debate sobre ações em outro país para poupar população de regime daninho, soberania e pragmatismo acabam prevalecendo
Questão voltou à tona com recente crise em Mianmar; Guerra do Iraque deixou governos mais temerosos de efeitos e repercussões
MARCELO NINIO
DE GENEBRA
É legítimo intervir num país
para salvar uma população de
seu próprio governo? O debate
foi reavivado em maio pelo
chanceler francês, Bernard
Kouchner, durante a trágica
passagem de um ciclone por
Mianmar, que deixou 140 mil
mortos e desaparecidos.
Ex-ativista humanitário e
um dos fundadores da organização Médicos sem Fronteiras,
Kouchner defendeu que, diante da recusa do regime militar
birmanês em cooperar, a ajuda
externa às vítimas deveria ser
imposta ao país.
"Os navios e helicópteros
franceses poderiam chegar em
meia hora à área do desastre",
argumentou Kouchner, para
descrença de um grande número de países das Nações Unidas,
entre eles dois membros permanentes do Conselho de Segurança, China e Rússia.
Foi mais um passo tortuoso
na evolução do polêmico conceito de "intervenção humanitária". A idéia, apoiada por muitos na teoria, na prática esbarra
na crueza da geopolítica e no
temor de que se transforme
num pretexto para aplicação da
lei do mais forte.
No confronto entre soberania e intervenção, observam as
autoridades no assunto consultadas pela Folha, a primeira
quase sempre leva vantagem
na busca por consenso internacional. Sobretudo em um caso
como o de Mianmar, onde a catástrofe humanitária foi causada pela natureza, não pelo regime. Além disso, havia o contexto geopolítico.
"É uma suprema ingenuidade achar que um país submetido a 20 anos de sanções e que
chegou a mudar a capital de lugar por medo de uma invasão
americana de repente aceitaria
navios militares estrangeiros
de braços abertos", disse por
telefone o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, que até março era
o enviado para direitos humanos da ONU a Mianmar.
Fator Iraque
Em um artigo recente, a secretária de Estado do governo
Clinton, Madeleine Albright,
disse que nos anos 90 foram
criados precedentes para que a
soberania pudesse ser rompida
quando vidas estivessem em jogo. Já a invasão do Iraque, afirma ela, gerou uma onda de reações negativas às intervenções
"por causas justas".
Para John Holmes, subsecretário da ONU para direitos humanos, a invasão americana do
Iraque foi "um veneno" para o
direito de intervenção. "Foi extremamente negativo e serviu
para desacreditar a idéia", disse
Holmes à Folha. "Por outro lado, tornou-se tão difícil para os
EUA que levará outros países a
relutarem antes de embarcar
em algo parecido."
O direito de intervenção se
choca com um dos pilares das
relações internacionais modernas: a soberania. A tensão é antiga, mas foi a partir dos anos
80 que a idéia ganhou força,
com a criação de organizações
humanitárias como a do chanceler francês.
Impressionado com a passividade do Ocidente diante da
tragédia humanitária que havia
presenciado na Guerra de Biafra (Nigéria), na década anterior, Kouchner defendia na
época o que sugeriu recentemente no Mianmar: casos de
sofrimento extremo de uma
população causado ou aumentado pelo seu governo justificam o desrespeito à soberania.
A idéia evoluiu como teoria
com o professor de direito italiano Mario Bettati. Foi ele que
cunhou a expressão "direito de
ingerência", que dá título a um
livro considerado uma referência sobre o tema.
A proposta de Bettati e
Kouchner desafia uma ordem
mundial de mais de três décadas. Inaugurada pela Paz de
Westfália (1648), que terminou
a Guerra dos Trinta Anos na
Europa, tinha no respeito à soberania dos Estados um princípio central. Ele foi mantido na
Carta da ONU, de 1945.
Um dos principais responsáveis pela promoção do conceito
de intervenção humanitária
nos últimos anos Gareth
Evans, ex-chanceler australiano. Em 2001 ele chefiou a comissão formada pelo governo
canadense que elaborou as diretrizes do pacto Responsabilidade de Proteger, incorporado
pela ONU quatro anos depois.
Conhecido pela sigla R2P, o
conceito prega a responsabilidade não só de Estados, mas da
comunidade internacional, de
proteger civis de atrocidades.
Para Evans, hoje presidente da
organização International Crisis Group, a ação armada deve
ser guardada como um último
recurso em casos extremos, como o genocídio.
"R2P é a responsabilidade
coletiva de evitar tragédias humanitárias e reagir por meio de
sanções, pressão política e todos os meios disponíveis quando elas acontecem", disse
Evans à Folha. Segundo ele,
um bom exemplo de R2P ocorreu no Quênia no início do ano.
Em outros tempos, diz Evans, o
mundo demoraria a reagir aos
confrontos étnicos no país.
Desta vez, a pressão foi imediata, e levou a um acordo mediado pelo ex-secretário da ONU,
Kofi Annan.
Paulo Sérgio Pinheiro ressalta a importância da geopolítica.
Em Mianmar, lembra ele, Índia
e China são os países com poder de influir sobre o isolado
regime militar por suas relações comerciais e proximidade.
O equilíbrio de poder e os interesses econômicas é que regem
as decisões internacionais.
"Por que ninguém fala em intervir na China pelos direitos
humanos?", questiona. Pinheiro acha que o conceito de intervenção humanitária permite
brechas para abusos. Por isso,
ao contrário de muitos grupos
humanitários, concorda com a
posição do governo brasileiro,
que dá preferência ao respeito
à soberania.
Texto Anterior: "Farc deveriam propor paz a Uribe"
Próximo Texto: "Pais" de papel-cartão amenizam ausência de soldados nos EUA
Índice
|